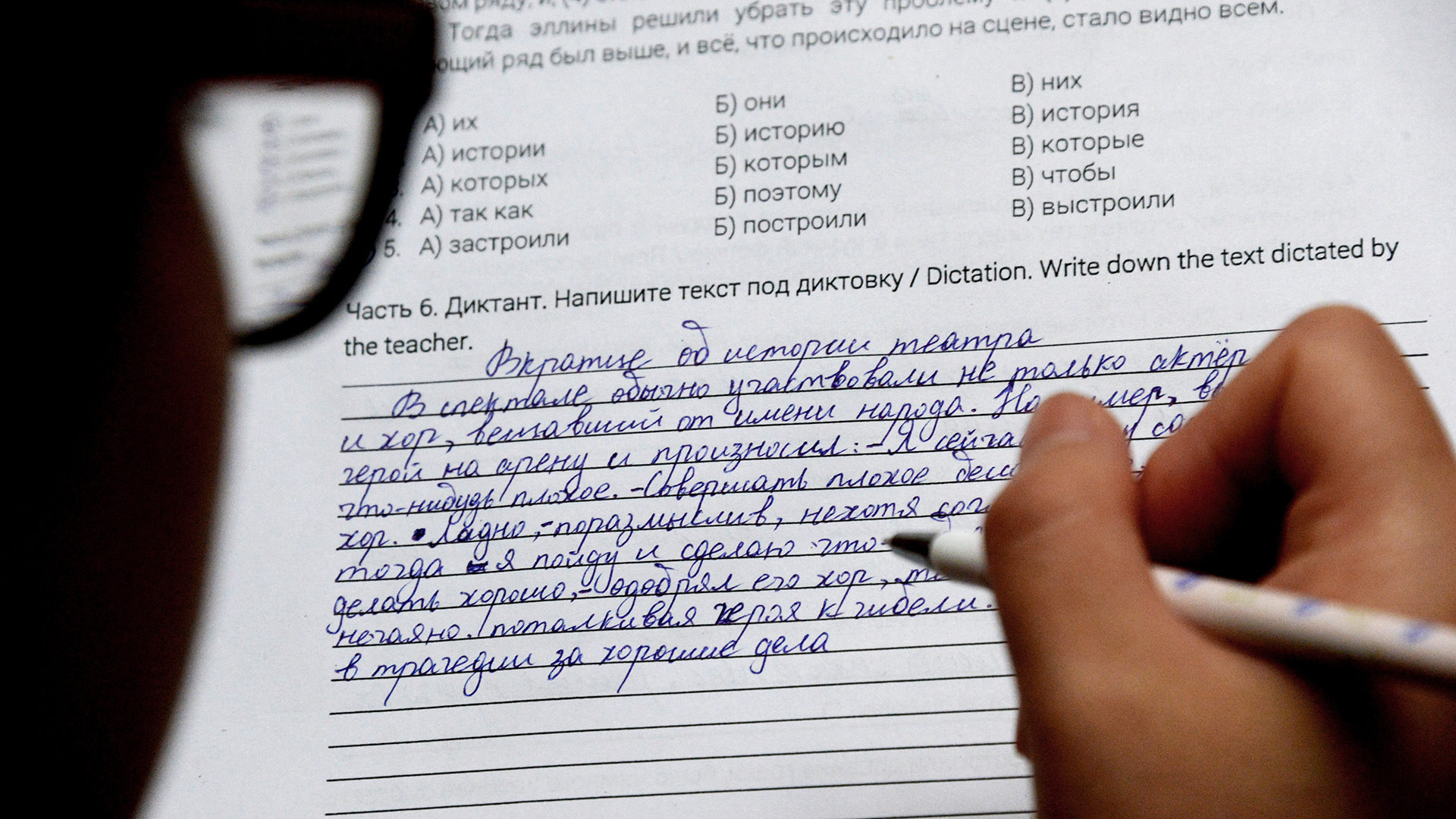Com esta postagem, estou terminando a publicação de trabalhos de mestrado e doutorado meus, entregues no final de cada matéria cursada. São textos importantes, pois não publiquei nenhum ainda aqui no
blog, e consistem nas minhas formas mais elaboradas e avançadas de textos acadêmicos antes que eu defenda minha tese. Eles me levaram a pensar minha própria pesquisa ou matriz teórica, às vezes ligando os autores lidos em cada semestre com meu objeto de investigação. Coroando a primeira matéria que fiz fora do âmbito da História, exceto as de licenciatura na Educação e as de línguas, aqui está o texto pedido pelo Prof. Dr. Alvaro Bianchi, que lecionou a matéria “Teoria Política Contemporânea I”, ministrada à turma de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Minha grade do doutorado exigia apenas uma disciplina não ligada à História Social, qualquer que fosse a ciência e o instituto, e consegui ingressar na referida, mesmo sendo voltada a mestrandos. O texto se chamou
Nicos Poulantzas, poder político, classes sociais e a busca por uma análise marxista científica da política, entregue em julho de 2018, e analisa os principais conceitos que o acadêmico francês de origem grega incluiu em seu famoso livro
Poder político e classes sociais. Foi uma experiência desafiadora lidando com uma obra em dois volumes, essencial e densamente teórica, e diretamente na língua original francesa. Nos próximos dias, voltarei a postar antigos trabalhos inéditos de graduação. Segue abaixo o texto sem alterações:

Desde que o movimento operário europeu aderiu em grande escala às ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, no final do século 19, para fundamentar teoricamente a ação política, entrou para o uso corrente o termo “marxismo” não apenas como identidade partidária, mas também como visão de mundo fundamentada numa análise materialista da sociedade burguesa, tendo por objetivo superá-la. (1) Porém, embora os escritores alemães tivessem baseado suas obras em vasta evidência empírica, sólida erudição geral e complexa articulação conceitual, por muito tempo duvidou-se do caráter científico daqueles que buscaram continuar seu projeto. De fato, os primeiros adeptos da corrente “marxista” sentiram a necessidade de simplificar muitos dos conceitos e conclusões dos “pais fundadores”, transformando-os em bordões mobilizadores e manuais facilmente digeríveis pelo operário comum para a luta política diária. Mas erigido em cosmovisão que poderia explicar os mais diferentes fenômenos, das ciências naturais aos fatos sociais, o “marxismo” codificado pela Segunda e Terceira Internacionais sofreu contestações inclusive da esquerda, a qual tentou resgatar as presumidas preocupações de Marx e Engels e alçá-las à verdadeira condição de ciência. (2) Esse debate acirrou-se quando a “ciência marxista” da Comintern e da União Soviética terminou atrelando-se à justificação e apoio aos interesses políticos e ideológicos do Kremlin, fortemente abalados quando seu poder sobre o movimento comunista internacional erodiu a partir da década de 1950.
Uma dessas tentativas de retificar o que se chamava correntemente de “marxismo ortodoxo”, caracterizado pelas afirmações simplistas e pelo empirismo metodológico, ocorreu na França, por meio do contato com a matriz de pensamento dita estruturalista. Representada, entre outros intelectuais, por Claude Lévi-Strauss na antropologia, Jean Piaget na psicologia e Louis Althusser na filosofia, comporta inúmeras perspectivas irredutíveis a uma definição unívoca e abrangente. Elas têm em comum, aproximadamente, a busca por maior unidade de método e epistemologia entre as ciências humanas, com base no emprego de modelos teóricos (“estruturas”) organizando o objeto estudado como um sistema e enfatizando as relações que unem suas unidades elementares em detrimento da decomposição, a sincronia dos elementos em detrimento da evolução ou diacronia. Althusser, por exemplo, entre as realizações de sua diversificada obra, a partir dos anos de 1960 buscou uma abordagem “estruturalista” de Karl Marx e Friedrich Engels, rejeitando as análises “historicistas” predominantes nas décadas de 1920 e 1930 e postulando a existência de uma “ruptura” entre os escritos “juvenis” de Marx (anos de 1840), marcados por maior preocupação humanista e hegeliana, e os da “maturidade” (cujo ápice teria sido O capital), centrados em criar conceitos científicos sobre o domínio da economia na sociedade burguesa. Atacou o que dizia ser o “caráter teleológico” no marxismo de inspiração soviética e a noção de “sujeito” na história (inclusive como a classe operária era considerada na visão tradicional), (3) passos seguidos por Nicos Poulantzas, filósofo, sociólogo e cientista político de origem grega muito influenciado por ele.
Professor universitário na França, politicamente filiado aos comunistas gregos, Poulantzas lançou ainda jovem sua principal obra, Pouvoir politique et classes sociales, (4) em que busca criar uma conceituação científica do tipo de Estado capitalista a partir dos escritos históricos de Marx e Engels, depurá-los do que considera leituras “historicistas” e contestar as correntes teóricas alheias ou avessas à noção de luta de classes. No caminho da interpretação althusseriana dos escritos marxianos, estabelece o conjunto conceitual, o escopo empírico e as precauções metodológicas a quem deseja estudar a natureza, o papel e os limites do Estado no modo de produção capitalista, concentra-se no estudo das estruturas, das quais os sujeitos não seriam mais do que meros suportes, e recusa-se a traçar as “origens” desse Estado. A atenção aos aspectos sincrônicos de seu objeto faz Poulantzas centrar tanto a crítica no “historicismo” dentro do marxismo que ele chega a considerá-lo uma das raízes do reformismo na militância operária europeia, uma influência de ideologias não proletárias. (5)
Os nomes do chamado “austromarxismo” das décadas de 1920 e 1930, sobretudo György Lukács e Karl Korsch, com suas preocupações em resgatar as reflexões filosóficas de Marx quando era jovem (alguns desses textos só então estavam sendo publicados) e já perto de uma crítica humanista às concepções da Comintern, são os primeiros interlocutores de Poulantzas. Em segundo lugar, mas certamente de primeira importância, estão os chamados “escritos históricos” de Marx, raros textos em que ele refletiu sobre acontecimentos políticos de sua época com mais vagar: As lutas de classe na França (1850), O 18 Brumário de Luís Bonaparte (1852) e A Guerra Civil na França (1871), além do Capital, tratado econômico na essência, mas de alcance muito mais amplo. Enfim, o terceiro diálogo conduzido em Pouvoir politique et classes sociales se dá com análises de Max Weber sobre camadas sociais, formas de Estado, burocracia e o exercício do poder, às quais é apontado o devido mérito de levantar importantes questões, mas que se relacionam com problemáticas e conceitos “funcionalistas” e “institucionalistas” criticados por Poulantzas. Em que pese a evolução do politólogo, cuja reflexão poderia ser encontrada mais “madura” e menos “teorética” nos anos de 1970, (6) sua primeira obra de vulto continua sendo uma referência importante na aplicação do pensamento estruturalista à teoria marxista do político (instituições) e da política (práticas).
Entre os textos que Nicos Poulantzas chamará de “clássicos do marxismo”, estão naturalmente, em primeiro lugar, as obras de Karl Marx e Friedrich Engels, que se distinguem entre as que tratam essencialmente de economia – sobretudo O capital – e as que constituem reflexões sobre eventos políticos recentes na França (ver acima) e, por vezes, na Alemanha bismarckiana (principalmente por Engels). Nesses “escritos históricos”, em especial, haverá um tratamento disperso e pouco sistemático, segundo o acadêmico, de conceitos teóricos, algo sanável pelo que ele denomina “trabalho crítico particular”: Poulantzas disseca os livros em busca de articulações passíveis de gerar conceituações, e embora o faça de maneira avessa às ortodoxias, é bem claro quanto à sua matriz inspirada em Althusser. Na “Introdução”, arrola a interpretação que dá a vários conceitos marxianos: “modo de produção” como o conjunto de “estruturas e práticas” repartidas em várias “instâncias”, “níveis” ou “estruturas regionais” (ou seja, o econômico, o político, o ideológico, o teórico etc.) e articuladas conforme a chamada “matriz” desse modo de produção; a “determinação” do nível econômico como “dominância em última instância” em qualquer modo de produção, diferente do “papel dominante” de um nível qualquer nesse modo, que seria inclusive definido por essa “determinação” econômica; (7) “formação social” como uma realidade “historicamente determinada”, enquanto os “modos de produção” seriam “objetos de abstração formal” que, porém, se traduzem por sua existência simultânea numa dada formação social, um deles (feudal, capitalista etc.) sempre sendo nela dominante sobre os outros; e a construção de “conceitos de abstração formal” como objeto de ciência, e não a abordagem de fenômenos empíricos como tendo existência conceitual prévia; em outras palavras, não existiria nada prontamente observável num “modo de produção” que se pudesse chamar de político, econômico, ideológico etc., mas apenas a articulação dessas “instâncias regionais” dentro daquele modo definiria a própria extensão e limites delas, igual relação à que ocorre entre uma “formação social” e os “modos de produção” aí concorrentes. (8)
Dados esses esclarecimentos conceituais, Poulantzas aponta o objetivo central de seu ensaio: elaborar uma teoria da instância regional do político dentro do modo de produção capitalista, em outras palavras, uma teoria sobre o tipo de Estado capitalista. Ele esclarece que “modo de produção” também não se confunde com “relações de produção”, integrantes da “instância regional econômica”, que não é, pois, necessariamente única numa formação social. Como problemas gerais ao tratar os textos não apenas de Marx e Engels, mas também de Vladimir Lenin e Antonio Gramsci, que ele assume como clássicos modernos, Poulantzas aponta a existência de conceitos em “estado prático”, ou seja, elaborados em meio à atuação política, e não como atividade separada; a ausência de um “discurso teórico sistemático” que ligasse esses elementos conceituais; e um discurso implícito, e não explícito, sobre o político, que baseia essas análises, obrigando o autor a extraí-lo cuidadosamente delas. Sobre Marx e Engels, o acadêmico aponta ainda, primeiramente, que A ideologia alemã consiste no ponto de corte entre as “preocupações juvenis” de Marx e o surgimento da chamada “problemática original do marxismo” – no que explicitamente segue Althusser –, não devendo as primeiras, assim, ser sobrevalorizadas, como faziam marxistas do século 20. Segundamente, Poulantzas enxerga no Capital uma abordagem científica do “modo de produção capitalista”, mas com a análise exaustiva apenas de sua “região econômica”, limitando-se a linhas gerais a presença de outras “regiões”, como o político. Mas essa presença não seria ocasional, pois como se lê em Pouvoir politique et classes sociales, dois dos traços do modo de produção capitalista são a autonomia relativa de suas instâncias, permitindo sua análise abstrata separada, e o “papel dominante” (para além da “determinação”) do econômico, justificando sua atenção exaustiva. Em terceiro lugar, muitos dos textos históricos de Marx, Engels, Lenin e Gramsci resultariam de polêmicas basicamente ideológicas, portanto a ideologia, que Poulantzas separa da teoria, deveria ser processada para que então surgissem os conceitos. E finalmente, em quarto, se nas obras propriamente políticas dos quatro autores, muitas delas cheias de referências históricas, os conceitos estão em “estado prático” e as descrições estão “implícitas”, é preciso tirá-los da ordem meramente discursiva e reagrupá-los em sequência lógica. (9)
Nicos Poulantzas aproveita a flutuação e a ambiguidade dos conceitos em Marx e Engels para criar, a partir de seus escritos, uma teoria marxista do Estado capitalista ancorada numa leitura estruturalista. Segundo ele depreende, sobretudo, do Capital, as unidades básicas para se pensar um modo de produção são as estruturas, esse modo mesmo constituindo uma estrutura, mas feito também de instâncias política, econômica e ideológica como “estruturas”. O modo de produção capitalista se caracterizaria por uma autonomia relativa das instâncias, em especial da econômica em relação à política, as quais não influiriam diretamente umas nas outras, mas teriam seus limites definidos pela importância e abrangência de cada uma – contra uma abordagem sistêmica que veria as instituições como entidades equivalentes mutuamente se relacionando. Os conceitos de classe e poder são centrais nessas limitações: Poulantzas vê os contatos entre pessoas como “relações sociais” nas quais seus conflitos de interesse se dão em termos de classe – o modo como se relacionam enquanto produtores –, enquanto poder é a capacidade de impor os próprios interesses sobre outras classes; “interesses” não se devem ler como vontade subjetiva, mas como atuação dos indivíduos como “portadores” das estruturas. Daí decorre principalmente que o “poder” não é instituição, mas essa imposição de classe nas diversas instâncias, e que a função essencial do Estado capitalista é a ocultação, em processos ideológicos e jurídicos, do caráter social da produção, alçando os indivíduos em “cidadãos” e “sujeitos de direito” e a si mesmo em “coletivo público da nação”. Assim, Poulantzas se deixa separar, para efeitos teóricos, a luta econômica, ou disputa individual enquanto trabalhadores, patrões, empresas etc. – proporcionada pela separação entre produtor e meios de produção –, e a luta política de classe (para ele uma redundância), quando o operariado deveria emergir na cena política com organização própria, e não atomizado pela justiça. Isso porque o Estado não seria a soma de partes distribuíveis, mas uma instância com dominação de classe, classe essa nem sempre dominante na região econômica, dada a autonomia desta ante a região política como traço definidor do tipo capitalista de Estado. Esse “tipo” pode ainda variar em formas do Estado capitalista, relacionadas ao grau da citada autonomia, e formas de regime, segundo a representação partidária – não pensada de modo diacrônico – e a composição do bloco no poder, outro conceito-chave na interpretação política de Poulantzas. (10)
O “bloco no poder” não seria a mera distribuição partidária ou classista de cargos ou postos no Estado, mas o arranjo de classes ou frações de classe dominantes no campo da luta política de classe, em que uma das classes ou frações polarizaria o domínio das demais, assim obtendo a hegemonia (conceito usado diferentemente de Gramsci – ver adiante) nesse bloco. A relação do bloco no poder com o Estado estaria longe da univocidade: o segundo, como estrutura, gozaria de uma “unidade própria” e de uma “autonomia relativa” não somente perante as outras instâncias, mas também perante o bloco no poder (lembrando a definição de “poder” não como instituição, mas como a capacidade de fazer valerem interesses de classe). Na verdade, conforme a leitura poulantziana dos textos de Marx e Engels, essa autonomia até mesmo seria uma condição para a dominação de classe, pois, não sendo simples “ferramenta” da(s) classe(s) dominante(s), o Estado teria o papel duplo de apresentar às classes dominadas o interesse, no caso, burguês como “interesse nacional-popular” e de organizar os interesses diversos e, por vezes, irreconciliáveis das classes ou frações de classe dominantes – que, por isso, não logram apresentar-se como dirigentes estatais diretos. Daí também a distinção entre “classe dominante” (no campo da luta política de classes), “classe reinante” (que governa o Estado, mas não é necessariamente dominante) e classe que “detém” o Estado (o “aparelho de Estado” estritamente falando, isto é, exército, burocracia, serviços); apenas a primeira poderia provocar efeitos pertinentes nas relações de poder. Tudo isso implica conclusões que separam Poulantzas dos autores institucionalistas e funcionalistas e o fazem ir além do que escreveram Marx, Engels, Lenin e Gramsci. Primeiramente, ele entende a ideologia não como uma “falsa consciência” ou um conjunto dogmático-doutrinário, mas como uma cultura compartilhada dentro do modo de produção capitalista, que necessariamente “falseia” a realidade, invertendo e obscurecendo as relações de classe, porém atua como forma de legitimação. Segundamente, o uso da força no sentido de “repressão física organizada” é limitado ao Estado, como suposto representante da vontade “nacional-popular” legitimada pela ideologia, limitação que difere o modo de produção capitalista dos outros. Em terceiro lugar, a separação dos poderes não deve ser julgada pela aparência, pois nos fatos eles não quebram a unidade própria do Estado, mas podem servir de “instâncias internas” ocupadas por várias das classes ou frações dominantes, cujo conflito determina a prevalência de um desses poderes sobre os outros. Portanto, também parte da definição da forma de regime, essa prevalência não indica de forma alguma a quebra radical do status quo nem uma “evolução” no sentido diacrônico (e.g. parlamentarismo mais “democrático” do que o presidencialismo). E em quarto, enfim, a burocracia não constitui uma “nova classe”, mas uma “categoria social”, que pode ou não atuar como “força social” dependendo da conjuntura política e de seu uso como “apoio” à(s) classe(s) dominante(s) – como na França, para absorver as classes ligadas aos modos de produção não capitalistas. (11)
Vladimir Lenin e Antonio Gramsci são os outros dois “clássicos marxistas” com quem Nicos Poulantzas dialoga, pois, segundo ele, o russo e o italiano promoveram rupturas na maneira como Marx e Engels eram lidos pela social-democracia europeia e inclusive pelas correntes radicais de esquerda nas décadas de 1920 e 1930. Tendo combatido “reformistas” e “revisionistas” na Segunda Internacional, Lenin imergiu-se nos autores alemães para buscar respostas às questões prementes da transição ao socialismo na Rússia e sintetizar seu método quando situações inusitadas pediam criatividade. Contudo, para Poulantzas, Gramsci manteve diversos “resquícios historicistas” (acusação recorrente em todo Pouvoir politique et classes sociales) advindos de suas leituras anteriores, ora admitindo que a classe operária podia ser o “sujeito da história”, ora sobrevalorizando a particularidade temporal dos fenômenos, sem dar formulações mais gerais. As obras de Lenin são um apoio para pensar as questões do Estado, do poder e das classes e as relações entre eles: é do bolchevique que Poulantzas retém a linha separando a luta econômica e a luta política, as quais nunca são separadas de seu caráter de classe, mas nunca misturadas entre si. “Classe”, diz Lenin, não é uma categoria encerrada na instância econômica e, como pregam as leituras mecanicistas, com impacto direto no político, mas o resultado dos efeitos das estruturas sobre seus portadores (as pessoas), perpassando, pois, todas as regiões de um modo de produção. A particularidade do Estado como estrutura política estaria em refletir todas as contradições que atravessam esse modo, e não em atuar como força arbitral ou controlador: o poder, repete Poulantzas, é a capacidade de uma classe de produzir efeitos pertinentes sobre as outras, e não os “centros de poder” (igrejas, Estado, escolas etc.) entre os quais ele se desloca. Portanto, a centralidade do Estado na transformação revolucionária está em que, por sua “ação aberta” (organização própria), o proletariado não poderia limitar-se às conquistas econômicas, mas conquistar e destruir também o Estado em seu tipo capitalista. A importância da história na reflexão de Lenin está em que qualquer ação política só podia ter como objeto a “conjuntura”, isto é, o “momento atual” a partir do qual se tirariam os conceitos analíticos da análise concreta, e não no sentido teleológico da evolução a um rumo pré-definido (a “Ideia” hegeliana). (12) Poulantzas se inspira ainda no russo ao ressaltar que a luta ideológica não se separa da luta política, e assim se contrapõe a Gramsci duvidando ser possível primeiro a conquista da hegemonia ideológica, e depois da política: a elaboração de uma visão de mundo própria já seria em si um ato político, além do que a tomada do poder pelo operariado não implicaria o apaziguamento automático da ideologia burguesa. (13)
Outro pensador e militante comunista que Poulantzas considera amplamente em suas teorizações é Antonio Gramsci. Segundo ele, os conceitos mais interessantes e aplicáveis trabalhados pelo italiano são os de ideologia e hegemonia: a ideologia não necessariamente pensada como um conjunto de regras ou princípios doutrinários, mas como um sistema ligado à coesão das partes de um modo de produção, e a hegemonia como a adoção mais ou menos tácita dessa ideologia por todas as classes. Todavia, no tocante a esses dois conceitos, restam críticas por parte do acadêmico: enquanto ele entende a “instância ideológica” como estrutura, Gramsci toma a ideologia como ativamente aceita por “classes-sujeitos”; e enquanto a noção estruturalista de “coerção” se aplicaria somente à força física como apanágio do Estado, e a de “hegemonia” à imposição ideológica do Estado dito “nacional-popular” e ao papel dominante de uma das classes dominantes sobre as outras classes dominantes, o italiano abusivamente as estenderia às classes dominadas, sendo a hegemonia o “consentimento disfarçado de coerção” e o próprio “consentimento” uma noção muito vaga e novamente implicando classes-sujeitos. Aliás, uma das mais frequentes críticas de Poulantzas é à vagueza e flutuação conceitual, cujo resultado, porém, ele tenta aproveitar e ressignificar. Um dos cernes de suas reclamações está na separação gramsciana entre Estado e “sociedade civil”, daí decorrendo, por exemplo, uma “politização excessiva” do político e o “voluntarismo” historicista ao considerá-lo não como parte de estruturas passivamente portadas, mas dentro de uma evolução histórica por etapas. E por isso seria falsa também a noção de “bloco histórico”, suposta aplicação do historicismo ao conceito leniniano de “conjuntura”, ou seja, a ligação ao que Poulantzas chama de “momento presente” (numa cronologia) em detrimento do “momento atual”. Outra incorporação crítica é do que Gramsci denomina “equilíbrio instável de compromisso” como base do poder político, mas rejeitando o conceito de “cesarismo” – e nele a inclusão do “bonapartismo” – indicando o “equilíbrio catastrófico” cuja única resolução seria o choque aberto. (14)
O diálogo mais complexo de Nicos Poulantzas se dá, basicamente, com diversos teóricos, acadêmicos, intelectuais e militantes com alguma influência de Max Weber no início do século 20. Poulantzas reconhece a importância de Weber na formulação e abordagem de questões necessárias à análise marxista do Estado, mas critica todas as decorrências teóricas, por exemplo, de seu modelo dos tipos ideais, que ele julga “empirista” por pressupor que deve haver alguma correspondência entre o real e o abstrato, enquanto para Poulantzas a criação de conceitos tem valor de análise científica, e não reprodução descritiva. Quanto aos marxistas, além desse influxo, teria havido ainda, sobretudo pela ação de György Lukács e Karl Korsch, a recorrência contínua a textos que Marx escreveu quando era jovem, não concernindo, pois, segundo Poulantzas, as problemáticas “maduras” que desenvolveu junto com Engels. Entre as consequências desse retorno estaria uma visão antropologista de tudo o que é retomado em Pouvoir politique et classes sociales: o proletariado como uma “classe-sujeito” a quem cabia o desenrolar da história; os “interesses” dos “agentes” na luta de classes refletindo caracteres “psicológicos” (quando, na leitura estruturalista, os “suportes” das estruturas apenas agiriam conforme suas “necessidades objetivas”); a ideologia como uma “falsa consciência” derivada da “alienação” humana; e o Estado em apartação da “sociedade civil”, semelhante a um corpo estranho, manipulável (no essencial pela casse dominante), que a submete a suas vontades. O que Poulantzas chama de leitura historicista da obra marxiana, feita também, entre outros, por Herbert Marcuse, Umberto Cerroni e Lucien Goldmann (além, claro, de Gramsci), implicaria uma visão “voluntarista” da luta de classes: primeiro, porque o Estado e outras entidades são vistos como resultado da vontade das “classes-sujeitos” – ignorando o conceito de estrutura –; e segundo, porque os domínios do político e do econômico são constantemente confundidos, como se “luta de classes” indicasse a prevalência de um sobre outro – ignorando o conceito de práticas políticas e, além disso, caindo na “politização excessiva” ou no “economicismo”. Na crítica de Poulantzas a alguns autores, está igualmente uma correção da noção de poder – não exercido por instituições indivisíveis, capturáveis pelo assalto ao poder, mas presente na luta entre práticas políticas – e, por vezes, da localização da luta de classes apenas no âmbito do político ou do econômico – quando ela ocorreria em todas as instâncias, no campo de práticas políticas, e não, por exemplo, no Estado ou nas relações de produção. (15)
Seria impossível listar à exaustão cada escritor ou corrente que Poulantzas tenta refutar, (16) mas cumpre fechar com palavras gerais sobre as chamadas correntes “funcionalista” e “institucionalista”, ligadas também, segundo o acadêmico, às deduções de Weber. Contrária ao marxismo seria a “análise sistêmica” que fazem de uma formação social, ou seja, todas as instituições se influenciando reciprocamente dentro de um “sistema”, tirando poder umas das outras (concepção da “soma zero”) ou “institucionalizando” a luta de classes por suas funções tecnológicas e burocráticas. Quanto à burocracia, discutida nos últimos quatro capítulos (parte V), suas opiniões são ainda mais duras para com as ditas “teorias das elites”, também de cariz funcionalista: de forma alguma o crescente papel tecnocrático dos burocratas, na sequência do aumento das competências do Estado na sociedade capitalista, deve ser visto como a ascensão de uma nova “classe dirigente”. Atacando a noção de “elites no poder” proposta por Wright Mills, reafirma sua leitura, já citada acima, do que Karl Marx e Friedrich Engels escreveram a respeito, no sentido de uma “autonomia relativa” do aparelho de Estado (a ser diferenciado do poder de Estado) composto ocasionalmente por funcionários de várias classes, mas dentro de uma instância (o político) na qual a hegemonia é exercida por uma classe dominante. Nesse caso, Poulantzas não concede determinação crucial à origem de classe da burocracia, embora, como Lenin, admita que ela possa tornar-se uma “força social” em dadas conjunturas, como é o caso da absorção das classes alheias ao modo de produção capitalista na França.
As diversas aplicações da abordagem estruturalista a partir dos anos de 1950 eram parte de um amplo projeto de dar maior rigor e integração às ciências sociais e humanas, num tempo marcado pela contestação aos grandes paradigmas vigentes, como o marxismo. Nicos Poulantzas, atento às transformações políticas que inevitavelmente concerniam os marxistas, buscou integrar a ciência política a esse plano, embora sua própria filiação a Louis Althusser jamais tenha sido unívoca (cf. bibliografia). Prova disso são as poucas vezes em que o filósofo é citado em Pouvoir politique et classes sociales, obra muito mais repleta da análise exaustiva de Marx e Engels, em especial de seu O capital como “teoria regional do econômico no modo de produção capitalista”, e das interpretações dos “pais fundadores” feitas pelos comunistas Vladimir Lenin e Antonio Gramsci. Os conceitos de “estrutura e suportes”, “prática política”, “efeitos pertinentes” e “instâncias regionais”, entre outros, facilitam a abstração de fenômenos políticos e institucionais, mas não dão conta de como as pessoas e grupos enquanto sujeitos podem influir na conjuntura ou ter outras relações com os muitos domínios de uma formação social diferentes das propostas por Poulantzas. Essa problemática foi abordada por cientistas políticos de extração marxista que tentaram conciliar determinação e agência, bem como entra no núcleo da história social, cuja emergência deve muito às polêmicas anti-althusserianas de Edward P. Thompson. Contudo, o pensador greco-francês, ainda por vivenciar uma complexa evolução em suas ideias, destacou-se por almejar a sistematização teórica de rigor científico a um tema então vulnerável às paixões partidárias e às turbulências geopolíticas.
Bibliografia
AA. VV. Da ideologia. Organizado pelo Centre for Contemporary Cultural Studies da Universidade de Birmingham. Tradução de Rita Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.
BOITO JR., Armando et al. (Orgs.). A obra teórica de Marx: atualidade, problemas e interpretações. São Paulo: Xamã, 2000.
HOBSBAWM, Eric J. et al. História do marxismo. Tradução de Carlos Nelson Coutinho e Nemésio Salles. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. (V. 1. “O marxismo no tempo de Marx”.)
______. História do marxismo. Tradução de Leandro Konder e Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. (V. 2. “O marxismo na época da Segunda Internacional (Primeira parte)”.)
POULANTZAS, Nicos. Pouvoir politique et classes sociales. V. I. Paris: François Maspero, 1968.
______. Pouvoir politique et classes sociales. V. II. Paris: François Maspero, 1971.
SAES, Décio. A questão da autonomia relativa do Estado em Poulantzas. Crítica Marxista, São Paulo, n. 7, p. 46-66, 1998.
Wikipédia: L’encyclopédie libre. <http://fr.wikipedia.org>.
__________________
Notas (clique no número pra voltar ao texto)
(1) Para diversas análises históricas sobre o trabalho intelectual de Marx e Engels, suas primeiras interpretações e o surgimento do “marxismo” e do movimento operário “marxista”, cf. E. J. HOBSBAWM et al., História do marxismo, v. 1 e 2. Destaca-se o artigo de Georges Haupt, “Marx e o marxismo”. In: op. cit., v. 1, p. 347-375.
(2) Fujo aqui de dois debates importantes, por ora dispensáveis: a sobrevalorização novecentista da ciência e do caráter “científico” exigido de qualquer doutrina sobre o mundo, e as discussões dentro da esquerda radical, já no século 20, sobre o que seria “ciência” e “cientificidade” nas pesquisas sociais e, sobretudo, se era possível a edificação de uma “ciência proletária” contraposta à “ciência burguesa”.
(3) Sobre sua relação com as teorizações de Stalin, cf. Miriam LIMOEIRO-CARDOSO, Sobre Althusser e a crise do marxismo. In: A. BOITO JR. et al. (orgs.), A obra teórica de Marx: atualidade, problemas e interpretações, p. 107-121.
(4) Lançado no Brasil como Poder político e classes sociais. Tradução de Francisco Silva. Revisão de Carlos Roberto F. Nogueira. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
(5) Stuart Hall, Bob Lumley e Gregor McLennan, comentando a apropriação de Antonio Gramsci por Poulantzas, chegam a dizer que seria uma tentação chamar de compulsivas as reiteradas investidas do acadêmico contra os “historicistas”. Cf. Política e ideologia: Gramsci. In: AA. VV., Da ideologia, p. 60-100, sobretudo p. 86 ss.
(6) Como afirma Décio Saes, ao discutir o referido livro, na conclusão do artigo “A questão da autonomia relativa do Estado em Poulantzas”. In: Crítica Marxista, n. 7, 1998, p. 65. Cf. também o verbete “Nicos Poulantzas” da Wikipédia em francês. Disponível nesta página. Acesso em: 02 jul. 2018, 21h44min.
(7) Por exemplo, segundo Poulantzas, o que caracterizava o “modo de produção feudal” era o papel dominante da instância ideológica (na forma de religião), enquanto no “modo de produção capitalista” a instância econômica também tem o papel dominante, além da “determinação” em última instância.
(8) Nicos POULANTZAS, Pouvoir politique et classes sociales, v. I, p. 5-14.
(9) Ibidem, p. 14-19. No livro, as decorrências desses métodos para analisar Marx e Engels são listadas a seguir.
(10) Estas são as principais problemáticas abordadas no primeiro volume de Pouvoir politique et classes sociales, sendo os dois últimos capítulos sobre o Estado absolutista e as revoluções burguesas o laboratório da aplicação conceitual às descrições que Marx e Engels fizeram desses fenômenos históricos.
(11) A aplicação, no volume II de Pouvoir politique et classes sociales, dos pressupostos teóricos do volume I funda-se quase toda nos textos históricos de Marx e Engels, portanto deve muito à análise do bonapartismo francês que, como também pensa Lenin, exemplifica a formação desses traços típicos do Estado capitalista.
(12) Nicos POULANTZAS, Pouvoir politique et classes sociales, v. I, introdução e primeira parte.
(13) Ibidem, v. II, p. 24 ss. No segundo volume, os escritos de Marx e Engels terão papel maior na elaboração dos esquemas do Estado, sendo Lenin evocado quando Poulantzas aceita sua interpretação dos primeiros.
(14) Nicos POULANTZAS, Pouvoir politique et classes sociales, passim, principalmente v. I, parte I, cap. 1, e parte II, cap. 1 (p. 144 ss.); v. II, parte III, cap. 1 e 2, e parte IV, cap. 1.
(15) Nas “relações sociais de produção”, aí sim, ocorre a “luta econômica (de classes)”.
(16) Por isso, é interessante remeter a alguns trechos em que ele anuncia explicitamente essa crítica: Nicos POULANTZAS, Pouvoir politique et classes sociales, v. I, p. 57 ss.; v. II, parte IV, cap. 2.



 O cinema ajuda a narrar o passado para um número maior de pessoas, seja pelo alcance mercadológico que possui, seja pelos meios de expressão (música, cores, modo de falar das personagens etc.) que tornam mais fácil a compreensão do tema. Ele é bem adequado, por seu dinamismo, para tratar de uma época de aparente “aceleração da história”, em que rapidamente tantas coisas aconteceram e tantas mudanças se processaram: o que é, por exemplo, o período de 1914 a 1945 perto de milênios de história humana, apesar de sua enorme densidade em fatos e transformações globais? Ou, no caso do filme O ovo da serpente, o decênio de 1923 a 1933, quando se esfacelara o antigo Império Alemão e forças nacionalistas e racistas aglutinadas dispuseram-se a ressuscitá-lo ao custo da perseguição àqueles que fugiam do “padrão” nacional que elas inventaram? Esta obra de Ingmar Bergman, portanto, mostra bem as consequências da recente tendência a guerras tão devastadoras entre países e projetos, resultando em uma exclusão cujo fundo principal é o preconceito cultural, ou seja, o preconceito arraigado nas culturas e contrário a outras culturas.
O cinema ajuda a narrar o passado para um número maior de pessoas, seja pelo alcance mercadológico que possui, seja pelos meios de expressão (música, cores, modo de falar das personagens etc.) que tornam mais fácil a compreensão do tema. Ele é bem adequado, por seu dinamismo, para tratar de uma época de aparente “aceleração da história”, em que rapidamente tantas coisas aconteceram e tantas mudanças se processaram: o que é, por exemplo, o período de 1914 a 1945 perto de milênios de história humana, apesar de sua enorme densidade em fatos e transformações globais? Ou, no caso do filme O ovo da serpente, o decênio de 1923 a 1933, quando se esfacelara o antigo Império Alemão e forças nacionalistas e racistas aglutinadas dispuseram-se a ressuscitá-lo ao custo da perseguição àqueles que fugiam do “padrão” nacional que elas inventaram? Esta obra de Ingmar Bergman, portanto, mostra bem as consequências da recente tendência a guerras tão devastadoras entre países e projetos, resultando em uma exclusão cujo fundo principal é o preconceito cultural, ou seja, o preconceito arraigado nas culturas e contrário a outras culturas.