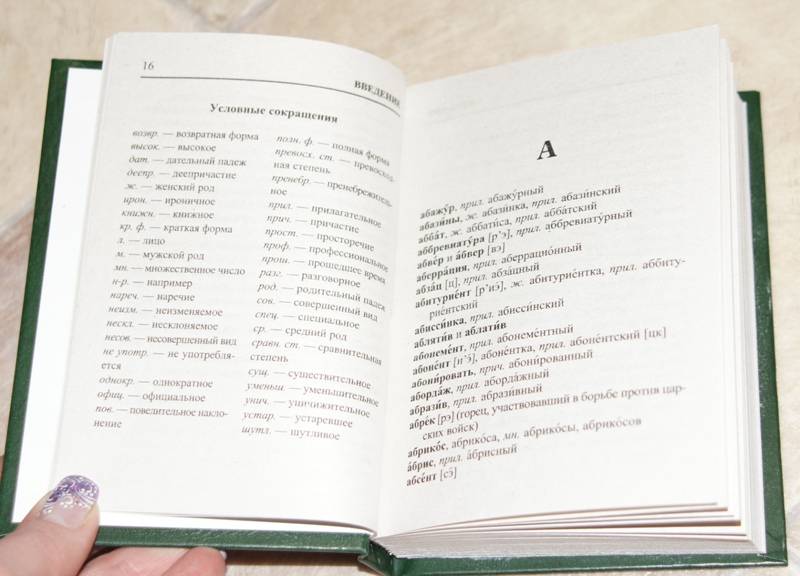Estas três últimas publicações podem soar paradoxais, já que há quatro anos venho combatendo a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin e que sou um crítico feroz da imposição da língua e cultura russas aos territórios ocupados, bem como a seu uso no exterior como uma espécie de soft power capenga pra esconder os crimes de Moscou contra a humanidade. Porém, não devemos esquecer que nem todos os russos apoiam a guerra e que muitos deles, pessoas de alto valor científico, artístico e literário, vivem hoje exilados em países capitalistas desenvolvidos. Por isso mesmo, conhecer a língua russa, e não somente a ucraniana, pode ser uma ferramenta crucial pra entendermos o regime terrorista atualmente em vigor na Rússia e obtermos informações objetivas sobre a agressão contra o vizinho meridional, onde muitos ainda dominam o “idioma de Pushkin” e os soldados da frente de batalha costumam ser mil vezes mais sinceros que a propaganda oficial.
Na verdade, esta publicação e a anterior consistem em material que ainda restava do minicurso livre de introdução ao russo que ministrei no programa TOPE da Unicamp no 2.º semestre de 2017, mas que levou um pouco mais de tempo pra ser adaptado à página. Percebi que parte dele já tinha sido publicada em 2017 e 2018, também como dicas pra estudantes de russo, sob o mesmo rótulo “Língua russa” que se encontra no final do texto. Mas estes restos que achei faz pouco tempo são mais ricos em exemplos, e não tive tempo de ficar comparando, portanto, assumo a responsabilidade pelas repetições e redundâncias. Adaptei pouco o estilo e somente fiz algumas correções e acréscimos quando necessário.
A terceira publicação vai trazer justamente uma lista de outros textos sob o mesmo rótulo, selecionados por sua importância pro estudo mais ou menos aprofundado do idioma. Infelizmente, não é um material pra iniciantes, e sim uma sistematização de noções pra quem já começou a aprender russo, embora também possa ser lido por curiosos que consigam tirar proveito de algumas das explicações dadas. Por isso, comecei com as observações sobre pronúncia, cujo valor reside em apresentar detalhes de pontos geralmente difíceis até pro estudante avançado (sinas duro e brando, redução vocálica, realização das consoantes brandas), e agora passei pra noções gerais que fazem um apanhado das principais características do idioma, por vezes o comparando com o português.
Reitero que, apesar de meu desejo, não estou disponível pra dar aulas virtuais de qualquer língua que seja, mas posso passar indicações de profissionais disponíveis (também pra inglês, francês etc.), bem como não é difícil os encontrar em diversas redes especializadas. Apenas recomendo que evite professores omissos ou simpáticos à guerra de Putin, pois ocasionais apologias nacionalistas ou patrióticas são abjetas nesse contexto; se ele falar português, mas estiver num dos próprios países que realizam a agressão, então duvide mais ainda, e de preferência rejeite.
COMO FUNCIONA A LÍNGUA RUSSA
Assim como as outras línguas indo-europeias, o russo é essencialmente uma língua flexional, ou seja, a formação ou alteração de significado se marcam basicamente pela adição de prefixos e sufixos (incluídas aí as terminações de gênero, número, caso, grau etc.), pela alteração nos radicais e pela composição de palavras com radicais diferentes.
Prefixos e sufixos: Classificados na categoria geral de afixos, caracterizam-se por se justaporem antes do radical (prefixos) ou depois dele (sufixos). Veja como isso funciona: ходить (ir ou vir a pé, sem direção ou num caminho de ida e volta) > приходить (chegar a pé); плохо (mal) > неплохо (“não mal”, bem, passável); революция (revolução) > дореволюционный (pré-revolucionário); хорошая (boa) > хорошенькая (bonitinha, graciosa); студент (estudante universitário) > студентам (aos estudantes universitários); уважать (estimar, respeitar) > уважаемый (respeitável, estimado).
Alterações nos radicais: Isso é mais comum do que se pensa em português. Tomemos como exemplo o verbo “fazer”, que tem o A como vogal do seu radical, mas pode alterá-la em outras flexões: “ele faz”, “eu fiz”, “ele fez”, “feito”. O mesmo com a consoante: “eu faço”, “eu fazia”, “eu farei”, “feita”. Algumas alterações seguem regras fixas ou previsíveis, como a queda de uma vogal móvel em radicais: ложь (mentira) > лжи (mentiras); лев (leão) > львы (leões); ou a alternância consonantal em verbos: любить (amar) > я люблю (eu amo); платить (pagar) > я плачу (eu pago). Às vezes o contato com outros morfemas também provoca essa alteração: я иду (eu vou) > я пойду (eu irei); имя (nome) > безымянный (anônimo, sem nome); река (rio) > речка (riacho); Бог (Deus) > Божий (divino).
Composição: Mais comum do que no português, mas menos comum e sistemática do que, por exemplo, no alemão, consiste na junção de dois ou mais radicais, com mais ou menos alterações de forma, numa só palavra que contenha o significado pleno ou aproximado de todos eles (não é sistemático o uso do hífen para uni-los): обще.народный (nacional), много.численный (numeroso), электро.завод (usina elétrica), водо.провод (encanamento), сто.летие (século), слово.сочетание (grupo de palavras), трудно.доступный (de difícil acesso), справочно-информационный (informativo, de informações).
O russo compartilha várias características com o português. Por exemplo: divide os substantivos em gêneros (masculino e feminino) – que são, contudo, mera categoria gramatical, e não indicação de sexo –, flexiona os verbos em modos (infinitivo, indicativo, subjuntivo, imperativo) tempos (passado, presente, futuro) e pessoas (eu, tu, ele/ela etc.), e indica o número do substantivo (singular e plural).
Contudo, muitas coisas são diferentes, e algumas no sentido da simplificação. O russo, por exemplo, não tem artigos definidos (o, a, os, as) nem artigos indefinidos (um, uma, uns, umas), cujas funções são ocasionalmente cumpridas por outras palavras. Assim, por exemplo, a palavra мальчик pode significar “menino”, “o menino” ou “um menino”: o contexto é que definirá a melhor tradução.
O russo também não tem nossos sons nasais, do tipo “em”, “im”, “õe”, “ão” etc., nem distingue entre vogais abertas e fechadas (como em “sede” – sentimento e “sede” – lugar, “avô” e “avó”), o que torna, assim, a pronúncia bem mais previsível. Apesar das irregularidades, a formação do plural também não acarreta grandes modificações nas palavras, como em “aluguel” > “aluguéis”, “mal” > “males”, “farol” > “faróis”, “lápis” > “lápis”. Outra característica interessante é que, apesar de certas diferenças de pronúncia e vocabulário, não há grande dialetação na língua russa, que torne o estudante estrangeiro incompreendido em determinadas regiões; da mesma forma, com um nível avançado, é possível conversar praticamente com falantes de russo em todas as regiões da Europa e Ásia. Deve-se dizer ainda que, desde o século 18, houve poucas reformas na ortografia, sendo a mais significativa a de 1918, tornando os textos antigos, assim, não tão impenetráveis. Como se verá também, há numerosas palavras de origem ocidental, especialmente grega, latina, inglesa e francesa, ainda mais comum no domínio artístico, literário, científico e tecnológico. Em várias ocasiões, isso torna necessário apenas o conhecimento do alfabeto para a resolução de problemas.
Além disso, o sistema verbal é bem mais simples: há apenas duas conjugações (que, porém, não se indicam pelo infinitivo, mas pela forma como se flexiona o presente ou o futuro), os tempos passado, presente e futuro, não há o modo subjuntivo, há poucas formas compostas e o imperativo só tem duas formas (“tu/você” e “vós/vocês”). Quanto às irregularidades morfológicas, elas são bem menos frequentes, por vezes logo assimiláveis e em geral previsíveis.
Além da ausência de artigos, outra coisa deixa a frase russa mais sintética: a ausência dos verbos “ser” e “estar” no tempo presente. Frases do tipo “Eu sou estudante”, “Masha é bonita” ou “Eu estou doente” seriam feitas, respectivamente, “Я – студент” e “Маша красивая” (enquanto “A bonita Masha” seria “красивая Маша”) e “Я болен” (com a terminação adjetiva já dando a ideia de um estado momentâneo). Por um lado, uma forma resquicial da terceira pessoa do singular do presente (есть) é usada apenas para indicar presença ou existência (Есть люди, кто... – Há pessoas que...). Por outro lado, às vezes outros verbos podem suprir a ideia contida nos verbos ser ou estar: Яблоко является вкусным фруктом (A maçã é uma fruta gostosa – lit. “constitui”); Я уже два часа здесь стою (Já faz duas horas que estou aqui – lit. “estou de pé”).
Contudo, ao lado dessas facilidades, há elementos complicados para o aprendiz brasileiro. Eles serão vistos gradualmente ao longo do curso. Os gêneros em russo, por exemplo, não são apenas dois, mas três (masculino, feminino e neutro), e sua distribuição é arbitrária, especialmente para coisas, que podem ser dos três gêneros. Em geral, seres vivos do sexo masculino são designados com palavras masculinas, e seres vivos do sexo feminino, com palavras femininas. Algumas palavras gramaticalmente masculinas também designam mulheres: врач (médico/a), инженер (engenheiro/a), биолог (biólogo/a) etc.
Em geral, pode-se designar o gênero dos substantivos por meio de sua terminação:
- Palavras terminadas em consoante não seguida de sinal brando, além da letra Й, sempre são masculinas: брат (irmão), рак (caranguejo, câncer), хлеб (pão), товарищ (camarada), палач (carrasco), падеж (caso gramatical), шалаш (choupana, cabana), музей (museu).
- Palavras terminadas em О, Е ou Ё são sempre neutras: дело (causa, assunto, negócio), лицо (rosto, cara), поле (campo), бельё (roupa branca).
- A maioria das palavras terminadas em А ou Я são femininas: девушка (moça, garota), кухня (cozinha), партия (partido), мама (mãe), тётя (tia). Algumas palavras terminadas em А ou Я indicam homens e são masculinas: папа (papai), дедушка (avô), дядя (tio), юноша (moço, jovem), мужчина (homem); as formas íntimas de nomes, como Петя (de Пётр/Pedro), Ваня (de Иван/Ivan), Вася (de Василий/Vasili, Basílio), Володя (de Владимир/Vladimir), Саша (de Александр/Alexandre), Паша (de Павел/Paulo) etc.
- As palavras terminadas com sinal brando podem ser masculinas ou femininas, mas jamais neutras. A distribuição é arbitrária, mas: 1) os nomes de profissões masculinas são masculinos; 2) os substantivos abstratos (conceitos, ideias, abstrações etc.) em geral são femininos; 3) a maioria dos outros substantivos terminados em sinal brando é feminina.
DIFICULDADES DE PRONÚNCIA
O sinal duro (Ъ): É uma letra rara no russo moderno. Praticamente, serve apenas para separar um prefixo, composto por ou terminado em uma consoante, de um radical cuja primeira letra é uma vogal branda. Mais raramente, ocorre em palavras estrangeiras, em geral vocábulos científicos e filosóficos de origem greco-latina, que exigem essa realização sonora. Assim, a consoante será pronunciada dura e a vogal, com seu som iotado: съезд (congresso), объятие (abraço), отъезд (partida), съёмка (filmagem, tomada), подъём (subida, elevação), объектив (objetiva – óptica), субъект (sujeito – gramatical, filosófico ou figurado).
Pronúncias desviantes da letra Г: Em três casos, essa letra não terá o seu som gutural padrão, como em “gato”, mas se pronunciará da seguinte forma:
1. Antes das consoantes К e Ч, o que se restringe a uns poucos casos, mas frequentes, é pronunciado como Х: мягкий [мьахкий], лёгкий [льохкий], мягче [мьахчи], легче [льэхчи].
2. A palavra “Бог” (Deus) no nominativo singular não é pronunciada [бок], como era de se esperar, mas [бох]. Porém, quando declinada em outros casos, volta à pronúncia regular: Бога (de Deus), Богу (para Deus), с Богом (com Deus) etc.
3. Em todas as terminações adjetivas e pronominais do masculino e neutro genitivos (-ого ou -его), o Г é pronunciado como В: молодой > молодого [маладова], хороший > хорошего [харошыва], этого человека [этава чилавьэка] (deste homem), его нет [йиво ньэт] (ele não está), сегодня [сиводьньа] (hoje = сего + дня = neste dia), что > чего [чиво], кто > кого [каво], никто > никого [никаво], ничто > ничего [ничиво] etc.
Redução excepcional do А: Via de regra, antes da sílaba tônica e depois de Ч е Щ, o А é reduzido em И: часы [чисы], щадить [щидить]. Em alguns numerais declinados, o ЦА antes da sílaba tônica é pronunciado ЦЫ: двадцать (vinte) > genitivo “двадцати” [дватсыти].
Observação: Em poucas palavras, há também a redução do ША e do ЖА para ШЫ e ЖЫ: лошадь [лошать] (cavalo) > лошадей [лашыдьэй] (dos cavalos), жалеть [жыльэть] (queixar-se, lamentar), к сожалению [ксажыльэнийу] (infelizmente).
Em palavras corriqueiras, não eruditas, o encontro consonantal ЧН é em geral pronunciado ШН: конечно (é claro), прачечная (lavanderia), скучно (é chato), яичница (ovos fritos), булочная (padaria), молочная (leiteria, loja de laticínios).
Lembremos que a palavra что se pronuncia [што], assim como as derivadas: нечто (algo, um quê), ничто (nada), чтоб(ы) (que, para que, a fim de), что-то (algo, um tanto), что-нибудь, что-либо (algo, alguma coisa). Nas formas declinadas, contudo, volta a regra geral: ничего, почему, зачем, о чём...
Letras que, por praticidade, não são pronunciadas (em geral, nas palavras comuns):
- o primeiro В em ВСТВ: чувство (sentimento), здравствуйте (olá);
- o Д em ЗДН e nas seguintes palavras: праздник (feriado, festa), поздно (tarde), сердце (coração), ландшафт (paisagem);
- o Л em “солнце” (sol), que volta nos derivados: солнечный (solar, ensolarado);
- 4. o Т em СТН e СТЛ: грустный (triste), известный (conhecido, famoso), местный (local, do lugar), частный (privado), счастливый (feliz) etc.
ЖЧ, ЗЧ, СЧ pronunciam-se como a letra Щ: мужчина (homem), заказчик (cliente), считать (contar, considerar).
Em algumas palavras e nomes estrangeiros, o Е não palatiza a consoante anterior, e é pronunciado, portanto, como um Э depois de uma consoante dura: антенна (antena), бутерброд (sanduíche), стюардесса (aeromoça), интернет (internet), деградация (degradação), модернизация (modernização), кашне (cachecol), бизнес (negócio, empresa), фонетика (fonética), энергия (energia), шоссе (rodovia), кафе (café – lugar), теннис (tênis – esporte).